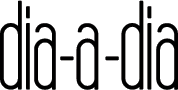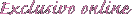Perda de direitos ou mimimi
Envie para um(a) amigo(a) Imprimir Comentar A- A A+
Compartilhe:
Aline Melo
Especialistas analisam cenários com a ascensão de novo governo no País, o primeiro declaradamente de direita desde a redemocratização
O Brasil vive um dos seus momentos de maior mudança política desde a redemocratização. Pela primeira vez em mais de 30 anos, foi eleito um presidente declaradamente de direita, Jair Bolsonaro (PSL). Após quatro eleições que escolheram mandatários petistas (Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 e 2006, Dilma Rousseff em 2010 e 2014) e programas de governo mais identificados com as pautas ditas de esquerda – como igualdade de gênero, direito de minorias e forte atuação estatal em assistência social – 57,7 milhões de eleitores votaram no candidato que defendeu flexibilizar o porte e a posse de armas, não demarcar novas terras indígenas ou quilombolas, combater a chegada de imigrantes, uma política liberal na economia e que fez declarações polêmicas durante a campanha, muitas delas consideradas pelos opositores machistas, racistas e homofóbicas.

As redes sociais estão cheias de discussões inflamadas e apaixonadas, relatos de brigas familiares e laços desfeitos, tudo motivado por essa guinada no cenário nacional. Mas o que de fato serão mudanças negativas? O que é o famoso ‘mimimi’, expressão que se tornou famosa na internet e que significa, em tradução livre, “reclamação que não teria motivo de existir”? Existem pontos positivos? O que esperar dos próximos quatro anos? Em busca dessas respostas, a Dia a Dia Revista entrevistou especialistas e militantes de diferentes áreas, que avaliaram as mudanças estabelecidas e as que estão por vir.
Avanço do conservadorismo
A eleição de um candidato declaradamente de direita foi recebida com assombro por alguns setores da sociedade. Eleitores de Bolsonaro foram acusados de fascistas pelos opositores que ainda tentavam entender a ‘novidade’. Na avaliação do historiador e cientista político Paulo Barsotti, no entanto, não há nada de novo. “O avanço da direita e do pensamento conservador não é exclusividade da América Latina e do Brasil, mas um fenômeno que vem crescendo desde 1989”, afirmou.
Para o especialista, é um erro classificar essa linha de pensamento político como fascismo. “É importante a gente nomear os fenômenos políticos como eles são. Chamo de extrema- direita e representa o fracasso das políticas sociais democráticas, tanto dos governo do PT quanto dos governos do PSDB”, completou. “O ministro da Economia, Paulo Guedes, segue a cartilha da Escola de Chicago (escola de pensamento econômico que defende o mercado livre e que foi disseminada por alguns professores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos), cujos fundamentos foram usados na ditadura chilena (de 1973 a 1990). Criar as condições favoráveis para o capital em um contexto de precarização do trabalho, com privatizações, redução do tamanho do Estado e fim das políticas públicas e de proteção social”, pontuou.
A professora da Fesp (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), historiadora e especialista em opinião pública Jaqueline Quaresemin também concorda que esse avanço é um fenômeno global. “Há uma crise do processo de globalização, porque, entre outras coisas, potencializou os debates nas redes. O que está acontecendo hoje, é importante dizer, ocorre em um ambiente de transformação digital e por isso está mais potencializado”, explicou.
Jaqueline lembrou que os segmentos conservadores estavam nas últimas duas décadas fora dos grandes Estados da Europa e na América Latina. “De certo modo, a social democracia, o que se chama de esquerda, vinha de forma mais hegemônica nessas duas décadas. E agora está posta essa pauta, esse discurso nacionalista, que, apesar de estar mais alinhado em uma esfera econômica do que social, tem alguns pontos que ‘unificaram’ o mundo”, completou.
Ambos especialistas avaliam que a eleição de Bolsonaro ocorreu em um contexto de perda de representatividade política pelos partidos ditos tradicionais. “Nem os setores ligados aos trabalhadores se identificam mais com o PT, nem os setores ligados ao capital se identificam mais com o PSDB”, pontuou Barsotti. “As pessoas não se sentem mais representadas pelo atual modelo de política no mundo. Então elas tentam buscar outras formas de participação e as redes sociais propiciaram isso. Desde 2011, a Primavera Árabe, o movimento de ocupação em Nova York, e no Brasil as jornadas de junho, que foram apropriadas pelos segmentos à direita”, apontou Jaqueline.
O uso das redes sociais também influenciou no resultado da eleição, avaliam os historiadores. “Houve nas eleições brasileiras uso excessivo de inteligência artificial, foram comprados dados, acessaram uma série de pessoas e a partir daí desenvolveu-se uma estratégia de uso excessivo de notícias falsas, como já havia ocorrido no Brexit (quando foi aprovada a saída do Reino Unido da União Europeia) e na eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos. Não vou dizer que o outro lado não usou, mas o campo conservador que saiu vitorioso usou isso de uma forma clara e massiva”, afirmou a professora.
Barsotti comparou a estratégia bem-sucedida – ainda que discutível – da campanha de Bolsonaro nas redes sociais com a campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello (então no PRN, hoje no PTC), em 1989. “Foi a primeira eleição disputada com amplo acesso à televisão. Sua família era dona de uma afiliada da TV Globo em Alagoas e o uso que foi feito, com transmissão de showmícios e coisas que ainda não se usavam, ajudou na vitória”, lembrou.
Os especialistas também avaliam que os campos da esquerda precisam rever suas estratégias, se quiserem voltar ao poder. “O PT se reduziu ao partido de uma pessoa, o Lula, e de uma bandeira, ‘Lula Livre’. O PSDB está esfacelado e terá à frente João Doria (governador do Estado de São Paulo), que não tem qualquer ligação histórica com o partido. É preciso se reaproximar das bases”, afirmou Barsotti. Para Jaqueline, o período será de grande repressão, com militares em postos-chaves do governo e uma política de medo. Mas também de grande ebulição social. “Os segmentos que defendem as pautas humanitárias, os direitos das minorias, das mulheres, dos negros, dos índios, também estão se articulando em rede. Quanto mais conservador for esse governo, maior será a resistência dos movimentos organizados”, concluiu.
Flexibilização da posse de arma

O presidente cumpriu em apenas 15 dias de mandato uma de suas principais promessas de campanha: flexibilizar a posse de armas. Em decreto assinado e publicado em 15 de janeiro, em edição extra do Diário Oficial da União, o governo ampliou as possibilidades de o cidadão obter a licença para manter o equipamento em sua residência ou local de trabalho. O texto estabelece seis justificativas que podem ser utilizadas pelos interessados em ter posse de arma de fogo na argumentação do pedido de licença junto à Polícia Federal. Entre elas, morar em Estado cuja taxa de homicídio seja acima de dez por 100 mil habitantes – em São Paulo o índice é 10,9. O prazo de validade do registro de armas também foi ampliado, de cinco para dez anos. Cada cidadão poderá adquirir até quatro itens para manter em sua residência ou local de trabalho.
O governo alega que as mudanças visam tornar as regras mais claras para agentes de segurança e pessoas que desejam possuir um armamento em casa ou no trabalho. No entendimento de Bolsonaro, não há riscos de acidentes, uma vez que interessados em obter a posse que morem com crianças, adolescentes ou com pessoa com deficiência mental deverão comprovar a existência de local de armazenamento seguro para armas, como cofre ou espaço com tranca. Caso o requerente ofereça informações falsas ou inconsistentes, o pedido será indeferido pela Polícia Federal.
Principal argumento do presidente e grande bandeira em sua campanha, a mudança é vista como garantia ao direito à legítima defesa, dando aos cidadãos, segundo o governo, a possibilidade de se proteger individualmente em situações em que as forças policiais não estejam presentes.
O coordenador do Observatório de Segurança Pública da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), docente da instituição e pesquisador da temática de segurança pública, David Siena, afirmou que na década de 1990 ganhou força a teoria de um autor norte-americano, o economista John Lott, que defendia o lema “mais armas, mais segurança”. Sem pesquisas que colocassem essa tese à prova, a ideia de que armar a população seria eficiente no combate à violência permaneceu sem grandes resistências até os anos 2000. “Quando pesquisadores passam a testar essa hipótese, 80% dos estudos sugerem que ela é falsa. Aliás, exatamente o contrário. De cada dez pesquisas que a gente pode ter contato sobre armas, oito pelo menos sugerem que quando você tem mais armas à disposição da população a criminalidade aumenta”, explicou. “Em ciência a gente fala sobre verdadeiro e falso, então essa hipótese é falsa. Ela não corresponde com a realidade, com a verdade científica”, ressaltou.
Siena esclareceu, ainda, que a mudança na posse de arma, feita por decreto, não poderá ser replicada se houver intenção de facilitar o porte, que é o ato de andar com o equipamento fora do ambiente de trabalho ou da residência. “Vai depender de projeto de lei, porque o Estatuto do Desarmamento diz que o porte de arma de fogo é proibido no Brasil, fruto do resultado do referendo no início dos anos 2000. Salvo algumas exceções, que é o porte funcional. Para mudar isso teria que mandar um projeto de lei para alterar esse artigo, o que deve ter questionamento judicial, porque ele estaria desrespeitando a vontade do povo, do referendo”, pontuou, não descartando uma disputa jurídica junto da constitucionalidade da mudança.
A flexibilização para que as pessoas maiores de 25 anos adquiram suas armas é avaliada pelo especialista como temerária. Entre as consequências possíveis, Siena cita a possibilidade de haver mais casos de feminicídio, homicídios culposos (quando não há a intenção de matar), devido à falta de habilidade com o equipamento, roubos e furtos das armas e posterior comercialização no mercado ilegal. “Em que pese ainda não estar sendo discutida a flexibilização do porte, a simples posse desse objeto já pode representar, sim, um incremento importante nas estatísticas, no número de casos de crimes violentos e de crimes também culposos”, concluiu.
Violência doméstica

Assim como o especialista em segurança pública David Siena avaliou que a flexibilização da posse de arma pode resultar em mais casos de violência doméstica e feminicídios, a advogada especialista em direito familiar, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santo André e da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, Juliana Almeida, acrescentou que será maior o temor das vítimas de violência doméstica em denunciar seus agressores. “Minha certeza é baseada não em teses de pós-graduação ou teorias que aprendemos nos bancos das faculdades, e sim nos relatos e casos que acompanho diariamente, de mulheres que sofrem tortura física ou emocional. Sentem muito medo de denunciar, e quando denunciam, não conseguem o amparo adequado”, declarou. “Tendo o companheiro uma arma em casa, qual a chance de esse medo aumentar?”, questionou.
Juliana ponderou que a própria Lei Maria da Penha, que protege as vítimas de violência doméstica, prevê em seu artigo 22, inciso I, que “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, dentre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)”. “Possuir arma em casa é um dos elementos que levam à concessão de medida protetiva para as mulheres em situação de violência doméstica, porque isso agrava o risco de morte. Armas de fogo são, inclusive, a maior causa de morte de jovens com até 30 anos”, justificou.
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
Uma das mudanças que causaram polêmica foi o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o antigo Ministério dos Direitos Humanos. A titular da pasta, a advogada Damares Alves, que também é pastora, logo nos primeiros dias de mandato teve vídeos de antigas pregações suas divulgados na internet. Nas gravações, condenava a ideologia de gênero e atacava feministas e a comunidade LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Intersex), o que também foi alvo de críticas.
Na prática, a mudança do nome do ministério pode ser positiva, avaliou a advogada especialista em direito da família Juliana Almeida. “Desde que esse ministério aceite as diferenças. Os gestores precisam entender que existem novas famílias, uma outra formação familiar nos lares, aquele ‘padrão’ estipulado pela sociedade de uma família 'normal' não existe mais hoje, a diversidade é obrigatória, nas escolas, no dia a dia e nos lares”, defendeu.
Para Juliana, as políticas públicas devem efetivamente ajudar as mulheres, alicerces de muitas famílias. “Precisamos focar nas crianças, mostrar o mais natural possível essas mudanças, precisa ser uma normalidade para as meninas, mas principalmente para os meninos, com o trabalho justo, a divisão de tarefas, devemos estimular esses pequenos detalhes, que parecem ser bobos, mas não são, devem ficar claros na cabeça das crianças”, opinou.
A saída para isso, na avaliação da advogada, é investir em campanhas de educação, para evitar que os meninos de hoje se tornem homens machistas amanhã. “Já para os adultos, que não temos mais como educar, a mudança deve ser radical, fazer cumprir a lei. Só assim podemos mudar uma sociedade, mas fazer cumprir mesmo, efetivamente, pois infelizmente não acontece isso na prática, o que faz com que a mulher recue e tenha mais medo”, concluiu.
LGBTI+
Parte da comunidade LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Intersex) denunciou que a Medida Provisória 870, publicada no DOU (Diário Oficial da União) no dia 1º de janeiro, e que determinava as políticas e diretrizes do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e de outras pastas, não contemplou a população LGBTI+. Segundo o governo federal, as políticas para esse público serão responsabilidade da Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, vinculada à Secretaria Nacional de Proteção Global.
A mulher transexual e ativista independente Neon Cunha, funcionária pública em São Bernardo, lembrou que, em decreto assinado em 2017 pela ex-presidente Dilma Rousseff, o Conselho LGBT, na prática, era denominado Conselho Nacional de Combate à Discriminação. “Sempre estivemos em vulnerabilidade. Existiram políticas públicas, mas nunca conseguimos uma legislação de fato”, justificou.
“Acho que a preocupação é justa diante do que foi dito durante a campanha do novo governo, assim como parte dos ministros ter se posicionado com ausência de qualificação e entendimento das necessidades LGBT. Mas o mais preocupante é o discurso de ódio validado e assimilado pela sociedade em geral”, ponderou.
O graduando em direito e homem transexual Leo Barbosa, ativista dos direitos LGBTI+, confirmou que não foi retirada do ministério a previsão de políticas para esse público, mas destacou que tanto Bolsonaro quando Damares já fizeram falas contrárias às demandas. “Já há inclusive um aumento na violência e não estamos vendo nenhuma movimentação para que haja mais segurança”, argumentou.
“Ainda assim, o que a gente pode esperar não é bom. Não há nenhuma fala, nada que indique que haverá uma movimentação pela proteção e segurança das pessoas LGBT vindas desse governo, muito embora a ministra tenha garantido que não haveria perda de direitos adquiridos”, completou. “Precisamos de frentes de resistência que unam as minorias. Passamos muito tempo cada um no seu quadrado e dessa forma é muito mais fácil quebrar as demandas, porque está cada um militando isoladamente e isso é um erro. Mulheres, negros, LGBTIs, imigrantes, deveriam estar lutando juntos. Precisamos de movimentação em rede”, concluiu.
Relações internacionais

Durante a campanha, Bolsonaro deu diversas declarações contra a imigração. Em novembro, ao lado do então futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que no que dependesse dele, como chefe de Estado, os imigrantes não entrariam no Brasil. Antes mesmo de assumir, Araújo declarou que o Brasil sairia do Pacto Global de Migração da ONU (Organização das Nações Unidas), compromisso assumido pelo País e outras 140 nações de, juntas, discutir e pensar formas de lidar com as correntes migratórias atuais. A alegação do atual governo é a de que o acordo fere a soberania nacional. A assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou, em 17 de janeiro, que o Brasil se dissociou do acordo, mas não enviou nota sobre as justificativas, alegando que os motivos já foram amplamente divulgados pela imprensa.
A mestre e doutora em direito internacional e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas Márcia Brandão Leão explicou que após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, a humanidade fez um pacto pela paz. Nesse contexto, houve grande evolução no entendimento dos direitos humanos e o compromisso de colocar o ser humano no centro das preocupações. “A humanidade como um todo assumiu um compromisso com essas pessoas deslocadas em função de perseguição. Então, a gente considera, pelo direito internacional, que é um pacto civilizatório”, detalhou.
Para a especialista, a decisão do Brasil de sair do acordo que foi assinado em dezembro, a exemplo de outros países que sequer aderiram, como os Estados Unidos, ou Itália, Austrália, Israel e outras nações da Europa Ocidental, que sequer participaram das tratativas, é um sinal muito ruim. “O acordo não é impositivo e não fere a soberania nacional, uma vez que os países se comprometeram a fazer pela migração o que julgarem estar dentro de suas capacidades. Sinal de abandono do Brasil desse compromisso com o ser humano do ponto de vista global”, pontuou.
Márcia lembrou que o Brasil sempre foi líder e considerado um grande parceiro internacional, tendo sua diplomacia situada entre as melhores do mundo. “Estivemos à frente das grandes discussões humanitárias, de soluções ambientais, ainda que discordando, mas sempre participando. Essa postura é uma guinada de 180 graus na tradição da diplomacia brasileira e bastante assustadora”, completou.
Para os estrangeiros que vivem no País, pouca coisa deve mudar por enquanto com a saída do pacto. Estima-se que cerca de 750 mil pessoas de outras nacionalidades estejam no Brasil. Em 2017, segundo a Polícia Federal, 834 cidadãos vieram viver no Grande ABC. Em abril de 2018, o Observatório das Migrações em São Paulo, da Unicamp (Universidade Estadual de São Paulo), publicou Atlas Temático inédito que mapeou quantos estrangeiros vivem nas cidades paulistas. Na região, foram identificadas 2.440 pessoas. O projeto foi financiado pela Fapesp.
“Temos uma das melhores leis de migração do mundo, sancionada em 2017, que garante o visto humanitário às pessoas necessitadas e por enquanto as protege”, relatou a especialista. Para os brasileiros que vivem em outros países, a professora também não acredita em grandes mudanças, mas é esperado o que se chama de reciprocidade. “Podemos falar em uma má vontade, ou talvez menos boa vontade, com pessoas oriundas de um país que não se compromete com cidadãos de outras nações”, detalhou.
A saída do pacto também deve respingar nas relações comerciais brasileiras. O saldo das relações de negócios do Brasil com outros países em 2018 foi de U$S 58,3 bilhões, segundo dados do Ministério da Economia. Foi o segundo melhor resultado desde 1989. “Interfere, porque tudo é feito no campo político. “Quando um país é parceiro nas grandes iniciativas que pretendem buscar soluções para grandes problemas mundiais, tende a ter mais facilidade de trânsito, de conversa. Porque ele é um parceiro. Esse sempre foi o diferencial do Brasil”, concluiu.
Redução da maioridade penal
Outra promessa de Bolsonaro durante a campanha foi a redução da maioridade penal. Pesquisa recente divulgada pelo Instituto Datafolha mostrou que 84% dos brasileiros são a favor da redução da idade limite para que alguém seja processado e preso, se condenado. Em outubro de 2018, Bolsonaro chegou a declarar em entrevistas que a maioridade penal deveria cair para 14 anos, mas que reconhecia a dificuldade em aprovar tal mudança. Mais recentemente, defendeu uma alteração progressiva, inicialmente para 17 anos, e 16 para crimes hediondos (como homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro qualificado e estupro).
O advogado e coordenador da Comissão da Infância e Juventude do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), Ariel de Castro Alves, avalia que a redução da maioridade não é uma boa solução contra a violência. “Os presídios superlotados e dominados por facções criminosas não vão recuperar os adolescentes”, defendeu.
Alves afirmou que nas unidades de internação os jovens têm, minimamente, escola, cursos profissionalizantes, atividades culturais e esportivas, atendimentos de psicólogas e assistentes sociais aos internos e seus familiares. “Nada disso existe em 90% dos presídios.” O advogado avalia que a redução da maioridade só gerará mais violência e criminalidade juvenil. “Os jovens sairão bem piores”, opinou.
O defensor afirmou, ainda, que medidas que previnam a criminalidade são mais eficientes do que reduzir a maioridade. “Precisamos de escolas mais bem estruturadas, ensino médio mais qualificado; escolas de tempo integral; cursos técnicos e profissionalizantes; programas de bolsas de estudo; tratamento para os dependentes de drogas e álcool. São medidas mais eficazes contra a criminalidade juvenil”, declarou.
Outro entrave para a mudança está no campo jurídico. Segundo Alves, o entendimento da OAB, é de que a imputabilidade penal (capacidade que tem a pessoa que praticou certo ato, definido como crime, de entender o que está fazendo) é cláusula pétrea, que só poderia ser modificada numa assembleia nacional constituinte e não por emenda constitucional. “Por enquanto não temos assembleia constituinte prevista, já que a eleição de deputados deveria ter sido específica para eleger deputados constituintes, o que não ocorreu. Se for aprovada a redução no Congresso, entidades sociais e a OAB podem entrar com ação no STF (Supremo Tribunal Federal) alegando inconstitucionalidade”, concluiu.
Historiadora e pesquisadora sobre encarceramento em massa, Suzane Jardim avaliou que a redução da maioridade penal não trará impactos no controle da violência. “É preciso reconhecer que o encarceramento enquanto medida de segurança pública simplesmente não funciona. A cada ano o Brasil vem prendendo mais e mais pessoas, porém o impacto desse fato na segurança cotidiana do cidadão é mínima e nenhum de nós pode afirmar que se sente seguro em transitar pelas cidades”, justificou.
A pesquisadora alegou que o sistema carcerário, na verdade, colabora para o aumento da insegurança ao criar uma massa de pessoas que, graças à passagem pela prisão, se tornam estatisticamente mais propícias a se manter no mundo do crime, sem ligações fortes com suas comunidades e familiares. “Ao mesmo tempo, a lógica de encarcerar também proporciona um sistema de justiça onde as vítimas não possuem assistência ou qualquer chance de serem reparadas pelos danos causados – o objetivo é prender o réu, não resolver o problema da vítima, fato que faz com que muitos de nós deixemos de olhar para as questões mais profundas envolvidas no crime e passemos a acreditar que simplesmente prender resolve nossos problemas enquanto cidadãos”, destacou.

A prisão não devolve o item roubado, não apaga violências sofridas nem devolve quem se foi, argumentou Suzane, mas a solução é vendida como se fosse resposta digna a tudo isso. “Costumamos dizer que o encarceramento em massa é na verdade um mecanismo de gestão dos problemas do País – é mais prático e lucrativo não resolver nossos problemas estruturais e não investir em outros modos de promoção da segurança pública para, em vez disso, simplesmente mandar gente para a cadeia. A prisão é uma máquina onde conflitos e questões pessoais, políticas e culturais são jogadas para ganhar uma roupagem simplista que na verdade precariza nossa segurança e nos mantém em uma vida cercada de medos e incertezas”, pontuou.
Suzane afirmou que os índices oficiais indicam que o número de crimes violentos e com dano à vida cometidos por jovens abaixo dos 18 anos é estatisticamente irrelevante, entretanto, a mídia sempre enfatiza cada um dos casos isolados, com sensacionalismo, o que aumenta o medo da população e colabora para a falsa sensação de que o menor de idade no País é um dos grandes riscos às vidas. “Na realidade, nossas prisões já prendem jovens – mais da metade das pessoas presas no Brasil hoje está entre 18 e 29 anos, entretanto, esses jovens chegam lá majoritariamente devido a furtos ou pequeno tráfico de drogas. Crimes contra a vida são responsáveis por cerca de 10% dos presos de nossas prisões em um País com cerca de 60 mil homicídios anuais. Não são os assassinos que estão sendo presos em massa”, apontou.
Para a pesquisadora, esses fatos revelam uma tendência que se agravará com uma possível redução da maioridade penal: quem lota e passará a lotar ainda mais as cadeias serão os jovens pobres que vivem do pequeno serviço no tráfico, sem qualquer ligação ou influência dentro do comércio de drogas, armas e elementos envolvidos no meios. “Esses jovens serão aqueles sem recursos para uma defesa digna, com baixo acesso à educação e que serão afastados de suas famílias e comunidades em uma idade onde tais vínculos são necessários para a formação enquanto adultos. A vida adulta desses jovens será moldada pela prisão e sua estigmatização, o que facilitará que se tornem adultos que se mantenham na criminalidade. A população acredita que a redução lhes trará mais segurança, entretanto a verdade é que a redução não irá fazer sequer cócegas no grande tráfico de drogas, não têm capacidade de evitar, prevenir ou nos proteger de crimes violentos e ainda tende a colaborar para que carreiras criminais sejam criadas dentro das prisões por pessoas cada vez mais jovens – teremos um aumento do gasto com prisões, um aumento do número de encarcerados, mas também um provável aumento dos índices de violência, desigualdade e insegurança”, concluiu.
Ensino de história afro-brasileira
No segundo dia de mandato do atual governo, o Ministério da Educação publicou edital para compras de livros didáticos para 2020, por meio do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que liberava títulos sem referências bibliográficas e excluía a orientação anterior da pasta de que as obras tivessem compromisso com a política de não-violência contra a mulher e de retratar a diversidade étnico-cultural brasileira. Também excluiu a obrigatoriedade da promoção da cultura quilombola e dos povos do campo. Após o fato ter sido noticiado pela imprensa, o MEC publicou novo edital com correções e atribuiu o erro ao governo anterior. Também foi instaurada uma sindicância para apurar as responsabilidades que, segundo o MEC, ainda está em curso.
Doutora em educação, especialista em educação especial e professora da Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo), Kiusam de Oliveira afirmou que desde muito antes antes da publicação do edital e do atual governo ter voltado atrás nas mudanças, os movimentos sociais, especificamente os que lutam pelas causas negras e indígenas, vinham se alarmando. “Após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), quem acompanhava o site do MEC pôde perceber que a lei 10.639/03 às vezes aparecia na íntegra e em outras, com partes riscadas e isso aconteceu ao longo de 2017, dando a muitas pesquisadoras e pesquisadores, inclusive eu, a insegurança ao falar da lei sem que entendêssemos o que estava acontecendo, se ela estava em vigor ou não. Tudo isso, acompanhado de informações e notícias de que tal lei cairia”, afirmou.
A lei citada pela docente é que determina o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Natural de Santo André, Kiusam atuou como consultora por duas gestões e meia junto à Prefeitura de Diadema para a implantação da lei 10.693/03. “Chegamos ao período eleitoral em 2018, vendo uma direita política ultraconservadora ganhar espaços nas mídias e no coração da população brasileira com discursos e práticas de ódio sempre racistas, sexistas, machistas, homofóbicos e elitistas pregando a separação, a violência, o olho por olho e dente por dente e a perseguição.
A professora afirmou que o discurso de armar a população, as declarações contra as demarcações de terra para indígenas e quilombolas, as ofensas racistas proferidas pelo então candidato só revelaram os movimentos negros do país sempre souberam, pontuaram e combateram: “o Brasil é um país racista e por isso são necessárias políticas afirmativas para tentar reduzir a distância socioeconômica entre brancos e negros”, pontuou.
Nesse sentido, ponderou a especialista ,é natural pensar que a lei 10.639/03, alterada pela lei 11.645/08, corre risco de ser revogada e/ou alterada. “Até agora não ouvi nada positivo sobre ações necessárias para a promoção da igualdade racial e social, só afirmações que nos colocam como últimos da fila, a reboque de todo o processo liberal que deixa o pobre mais pobre e o rico bem mais rico. Conservadores têm dificuldades em assumir seu lado racista, afinal, estamos no país onde ninguém se assumia racista, mas todos conheciam alguém que é racista”, declarou. “Precisamos estar atentos(as) porque não vejo ministros capazes de levar tal discussão com o valor e compreensão que ela merece e necessita ter, ao contrário, os olhares, posturas e falas de quem lá estão são separatistas, excludentes e demonstram abertamente o desprezo pelas questões ligadas diretamente aos negros. Será um período de reivindicações necessárias, tudo nos leva a acreditar nisso”, finalizou.
Diário do Grande ABC. Copyright © 1991- 2024. Todos os direitos reservados