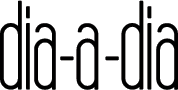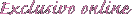Além do ventre
Envie para um(a) amigo(a) Imprimir Comentar A- A A+
Compartilhe:
Daniela Pegoraro
Com debate sobre descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, mulheres contam suas experiências com o procedimento no Brasil

Em um Brasil de desigualdade, cada mulher passa por diferentes realidades. A descoberta de uma gravidez pode desencadear reações e finais que divergem dependendo do momento, situação financeira e apoio familiar. No caso da andreense Helena*, 31, a maternidade chegou em 2015 de forma planejada. Embora não tivesse escutado nenhum batimento cardíaco no primeiro ultrassom, a médica afirmou que não havia nada fora da normalidade. Foi na segunda leva de exames que uma surpresa chegou atrás da outra: eram gêmeos. “Fiquei chocada, mas feliz. O que tivesse de ser, seria. A médica, porém, ficou em silêncio antes de anunciar: ‘Tem um problema, eles estão unidos pelo tórax e abdômem, e compartilham parte do coração’. A partir daquele momento começou a jornada. Não imaginava o que viria.”
Helena passou a conversar com outros médicos. Foi quando a opção de interromper a gravidez veio à tona, visto que as chances de sobrevida dos gêmeos eram nulas. Conseguiu vaga na área de gestações de alto risco no Hospital das Clínicas, de São Paulo, onde todos os especialistas foram unânimes ao dizer que não tinha como separá-los. Além disso, o parto seria de alto risco, podendo ocorrer desde a perda do útero até a morte da mãe. “Tive apoio psicológico. Deixaram claro que era bom ter suporte da família e do marido, mas a decisão era minha. Por isso, me consultei com a psicóloga sozinha para saber se não estava sendo forçada ou influenciada, e se aguentaria o procedimento. No fim, quem deita a cabeça no travesseiro e precisa conviver com essa história é quem passa fisicamente por isso.”
A documentação para pedido de aborto na Justiça foi dada pelos médicos. Hoje, a legislação brasileira permite a interrupção da gravidez em três casos: estupro, feto anencéfalo e risco de vida para a mãe. O caso de Helena se encaixava nos dois últimos. Em primeira instância, o pedido foi negado. A juíza alegou que os riscos não estavam claros. “Entrei em profunda depressão”, relembra. Ela conseguiu outros laudos detalhados e pediu recurso. “Foi autorizado por um homem. Me espantou, porque fui muito julgada por mulheres que não conseguiram se colocar no meu lugar”, conta. A data limite para o procedimento legal é de 24 semanas de gravidez e, na época, Helena tinha 22.
A advogada e especialista em direitos humanos Daniela Bucci explica que mesmo em casos como o da andreense, a mulher pode ter dificuldades na Justiça. “No caso do anencéfalo, se protege, entre outros direitos, as saúdes física e psíquica da mulher, situação não prevista no Código Penal brasileiro. No entanto, outros casos que poderiam colocar em risco a saúde da mulher continuam proibidos; assim como outros tipos de anormalidade, como microcefalia ou siameses. Isso não quer dizer que um juiz ou tribunal não possam conceder o aborto, mas não estão obrigados a fazê-lo.”
O processo de aborto foi realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com substância injetada no cordão umbilical que para instantaneamente os batimentos cardíacos dos fetos. Em até quatro semanas, o corpo teria de abortar. No entanto, nada aconteceu. “A médica disse que não havia mais batimento, me aconselhou a internar e fazer indução do parto. Fui internada na maternidade, com bebês chorando a noite inteira. Senti todas as contrações e eles nasceram na cama do hospital, sem nenhuma preparação. Não quis vê-los, preferi não ficar com essa imagem na memória. Foi tudo muito sofrido, bem dolorido. Costumo dizer que tomei essa decisão também por amor, porque se eles nascessem não teriam como sobreviver. O final seria o mesmo em todas as hipóteses desenhadas”, explica Helena.
Hoje, ela é a favor da descriminalização do aborto. A despeito do caso ter se enquadrado nas condições legais, o fato de ter de pedir autorização fez com que a história se desenrolasse com mais dificuldade do que deveria. “Sou a favor da legalização justamente porque faz com que o Estado seja responsável pela mulheres. As pessoas acham que isso vai banalizar o aborto, mas não é simples. É decisão dolorosa e quem chega a este ponto está em fragilidade emocional enorme. Fazer isso clandestinamente e se sentir uma criminosa é pior. As mulheres querem informação e acolhimento, saber quais são as possibilidades e optar pela mais saudável.”
PELA LEI
Embora seja considerado crime em ocasiões que não as permitidas por lei – em que a mulher pode ser processada e detida por um até três anos – o aborto faz parte da realidade brasileira. De acordo com a Pesquisa Nacional do Aborto, só em 2015 ocorreram cerca de 500 mil procedimentos ilegais no País. O estudo ainda aponta que, aos 40 anos, uma a cada cinco mulheres já provocaram a interrupção da gravidez. O perfil de quem aborta não é o que se comumente pensa. São mulheres entre 20 e 29 anos, em união estável, com até oito anos de estudo, trabalhadoras, católicas, com pelo menos um filho e usuárias de métodos contraceptivos, as quais fazem o procedimento em casa com uso de droga clandestina. Os dados são do livreto 20 Anos de Pesquisas Sobre Aborto no Brasil, do Ministério da Saúde.
Recentemente, o tema está sendo discutido em audiências públicas por conta de ação movida pelo PSOL, a chamada ADPF 442 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental). Nela, é pedido que o aborto nas 12 primeiras semanas não seja considerado crime. “A audiência pública precede um julgamento normal. O momento é de ouvir, colher provas e dados. Os 11 ministros decidirão, mas o julgamento pode acontecer em três, quatro anos depois. Não existe uma data certa”, explica a advogada Daniela Bucci. Ela acrescenta que, se aprovada, a ação fará com que a mulher que aborta deixe de ser criminosa, mas não garante política pública em hospitais e outros órgãos.
Sem nenhuma supervisão médica, os riscos por conta de um aborto mal realizado é grande. O ginecologista Mauro Sancovski, da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) explica que, dependendo da forma em que foi executado, pode trazer risco de infecção, hemorragia, perfuração no útero, intestino e morte. Inclusive, de acordo com o Ministério da Saúde, o aborto é a quinta causa de óbito materno no País. “Quando ele é legalizado, é diferente. A mulher está internada no hospital, com remédios que passam pelo controle da vigilância sanitária e do especialista. Além disso, o risco emocional é grande, por isso, o abortamento legal também conta com avaliação psicológica”, explica Sancovski.
O tema é polêmico e dividiu opiniões recentemente no país vizinho, a Argentina. Um projeto que legalizava o aborto até a 14ª semana de gravidez havia sido aprovado na Câmara dos Deputados em junho. Ao passar para o Senado, no entanto, o pedido foi negado por 38 votos a 31. Do lado contrário à descriminalização estão os grupos fervorosos, normalmente religiosos. Antes de anunciarem os votos, senadores se justificaram pela crença, argumentando a necessidade de salvar ambas as vidas, da mãe e da criança. Para eles, a questão é de estar tirando uma vida, que está presente no ventre da mulher desde a concepção – ou seja, desde a fecundação do espermatozóide com o óvulo. Do outro lado estão os grupos feministas que lutam pela decisão do corpo e maternidade, além de comunidades científicas e sociais focadas em políticas públicas para as mulheres, a fim de diminuir casos de mortes por aborto.
ARREPENDIMENTO
Realizar o procedimento sozinha em casa foi a decisão que Renata*, de São Caetano, tomou, aos 21 anos. Em junho descobriu que estava grávida, apesar das chances serem mínimas por conta de cisto no ovário e suspeita de endometriose. O namorado tinha problema genético que impossibilitava a fecundação. Teve, porém, que dar uma pausa na pílula anticoncepcional para realizar tratamento. “Meu namorado comprou um teste de gravidez, me pediu para fazer e deu positivo. Entrei em choque, confiei no diagnóstico dos médicos. Me senti sem chão, não sabia o que fazer já que não estava mais trabalhando, minha mãe havia sido demitida e só teríamos de renda a aposentadoria da minha avó”, conta.
Ao passar dos dias, Renata pensou muito sobre o que faria e tomou a decisão de interromper a gravidez, levando em consideração, principalmente, a falta de estrutura que a criança teria. Com auxílio de remédio que induz o parto, que encontrou pela internet, abortou apenas na companhia do namorado. “Foi extremamente doloroso, muito mais do que achei que seria. Aconselharam-me a ir ao hospital, mas, por escolha minha, não fui.”
Após a realização do aborto em casa, muitas mulheres têm o receio de ir ao hospital e acabarem sendo denunciadas à polícia. Sancovski explica que isso não cabe ao médico. “O especialista tem apenas de assistir a paciente, e não julgá-la. É preciso respeitar o sigilo profissional”, explica o ginecologista. No entanto, o livreto do Ministério da Saúde 20 Anos de Pesquisas Sobre Aborto no Brasil aponta realidade diferente, como descrito em suas páginas: “Um estudo qualitativo com 11 mulheres processadas judicialmente por aborto induzido nos anos 2000 mostrou que quase a metade foi denunciada à polícia pelos médicos que as atenderam nos hospitais. Muito embora a denúncia seja violação de princípios éticos fundamentais à saúde pública e à profissão médica, as mulheres não têm a garantia do sigilo durante a hospitalização”. De acordo com o Datasus, no ano passado foram registradas 177.464 curetagens e 13.046 esvaziamentos do útero por aspiração manual intrauterina, ambos procedimentos feitos pós-abortamento. O total foi de 190.510 internações.
Com menos de dois meses desde o ocorrido, Renata diz que se arrepende todos os dias. “Tento colocar na cabeça que foi necessário e que não havia condições de criar a criança, mas não quero nunca mais passar por isso. É mais difícil psicologicamente do que fisicamente” explica. No entanto, é pela experiência que teve com o aborto de modo clandestino que entende que o procedimento deva ser legalizado. “Ser descriminalizado não significa que mais mulheres irão fazer e, sim, que terão um aborto seguro. Sei como foi angustiante e precisamos contar com um atendimento psicológico.”
A legalização do procedimento não tem relação com o aumento do número de mulheres que abortam. Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), 88% dos 56,3 milhões de casos no mundo ocorrem em países emergentes. São nações que, em sua maioria, criminalizam o aborto, não oferecem políticas públicas de planejamento familiar e acesso aos métodos contraceptivos. De acordo com estudo do Instituto Guttmacher, dos Estados Unidos, a taxa anual de aborto em regiões desenvolvidas teve queda principalmente em países ricos, onde a prática é legalizada: passou de 46 para 27 abortos para cada 1.000 mulheres em idade reprodutiva.
Também da região, Marta* hoje tem 56 anos, mas ‘convive’ diariamente com o aborto feito aos 18. “Não foi uma decisão minha. Meu namorado era dez anos mais velho e fez chantagem emocional. Marcou horário em clínica clandestina e eu cedi. Tinha um pai agressivo e uma mãe que não me apoiava, então não contei para ninguém”, relembra. O trauma foi tamanho que seis meses depois Marta desenvolveu precocemente artrite reumatoide em grau severo, a qual o sistema imunológico do corpo ataca os próprios tecidos, incluindo articulações. “Sinto dores todos os dias desde então. Acho que adolescente não tem consciência do que é um aborto, dos reflexos que isso deixa. Hoje, vivo com oito próteses”, conta Marta, completamente contra a descriminalização do aborto. “Na época não tinha informação, os pais não conversavam com a gente sobre sexo. Eu mesma me castigava, achava que merecia ter artrite pelo que fiz. Cometi um erro, mas não sou uma pessoa má.”
Marta mora em Portugal, onde o aborto chegou a ser a terceira causa de morte entre as mulheres nos anos 1970 e que legalizou o procedimento em 2007. Desde 2011 não houve mais morte relacionada à interrupção voluntária da gravidez. “Aqui têm muitas mães solteiras que optam por não abortar porque o Estado dá condições para o filho ser criado.”
Diário do Grande ABC. Copyright © 1991- 2024. Todos os direitos reservados